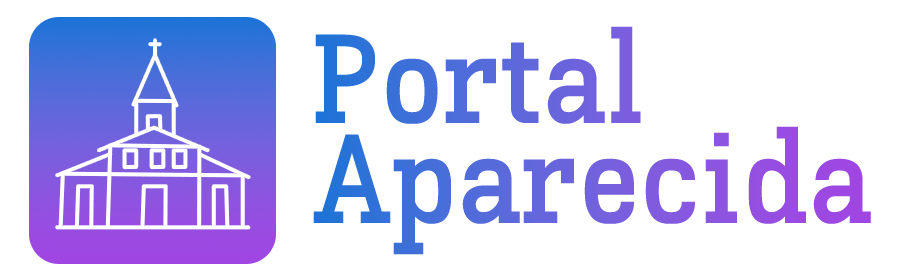O vermelho que posso dar
 Por Sebastião Silva
Por Sebastião Silva- Publicado em

Sebastião acordou antes das seis, sentindo o frescor leve da manhã no Jardim Tiradentes. Abriu a janela, respirou fundo e ficou alguns segundos olhando o céu ainda meio azulado. Era dia de doação de sangue, compromisso que ele mantinha com a mesma disciplina de quem paga conta de luz ou arruma o quintal no sábado.
Arrumou-se devagar, como quem prepara o corpo e a consciência. Pegou a carteirinha antiga — gastinha nas bordas, mas cheia de registros vermelhos — e a colocou no bolso da camisa. Cada carimbo era uma espécie de medalha silenciosa, e ele gostava de pensar que ali tinha um pedaço de histórias que nunca conheceria.
No ponto de ônibus, lembrou-se da primeira vez que doou. Era começo dos anos 90, 1992, pra ser mais exato. Já morava em Aparecida fazia tempo, tinha deixado a região da Vila Brasília e vivia no Colina Azul, pegando ônibus lotado todo dia pra ir trabalhar. A notícia correu rápido: um conhecido de serviço tinha sofrido um acidente feio em Goiânia, e o hospital pediu doadores com urgência no Hemocentro.
Sebastião tinha pouco mais de trinta anos, força de sobra na serralheria e nenhuma experiência com agulha além das vacinas de criança. Mesmo assim, não pensou duas vezes. Pegou o ônibus pra Goiânia, desceu perto do Hemocentro e entrou meio sem entender direito como funcionava. Lembrava até hoje do cheirinho de hospital misturado com o barulho baixo das cadeiras reclinadas. Doou por impulso, mas a sensação que veio depois — aquele alívio bom, quase uma paz — ficou guardada no peito desde então.
Hoje, com 65 anos, joelho rangendo e o médico já falando em diminuir esforço, Sebastião ainda doa. E vai continuar enquanto deixarem.
No caminho, recordou os comentários que sempre ouve:
— Mas, Sebastião, nessa idade o senhor ainda vai?
— Deixa isso pros mais novos.
Ele apenas sorri. Gente que nunca doou costuma arrumar desculpa boa. Já quem experimenta uma vez sabe: não tem contra-indicação pra solidariedade.
Ao chegar ao Hemocentro em Goiânia, sentou-se na cadeira confortável de couro sintético, passou álcool na mão e ficou observando o movimento. Jovens tirando foto como se fosse troféu, adultos apressados resolvendo tudo no horário de almoço, gente que só doa quando conhece alguém internado. Ele não julgava ninguém. Para ele, o importante era estar ali.
Enquanto a enfermeira preparava o braço, Sebastião olhou para o tubo transparente enchendo aos poucos. Era seu sangue passando por dentro de uma mangueira fina, indo para um saquinho que mais tarde seria vida pra alguém totalmente desconhecido. Esse pensamento sempre mexia com ele.
“É impressionante”, refletiu, “como o corpo da gente fabrica algo tão simples… e tão necessário. E mesmo assim falta.”
Porque falta. Falta muito. Falta demais.
Sebastião via isso nos noticiários, no rádio do vizinho, nas campanhas que aparecem no celular da neta dele. Os bancos de sangue vivem pedindo doação como se fosse água no meio de seca. E, mesmo assim, a maioria só lembra quando o problema bate na porta.
Enquanto deixava o sangue escorrer, pensou em como tudo seria mais fácil se doar fosse hábito, e não emergência. Se as pessoas entendessem que aquela meia hora podia salvar uma criança com anemia grave, um idoso operado, uma moça vítima de acidente de moto ali no Buriti Sereno ou no Expansul.
Mais ainda: ele gostava da ideia de que, no meio de tanta notícia ruim, tanta briga política e tanta correria, ainda existisse um tipo de ajuda que não dependia de dinheiro, não exigia fé específica, não tinha partido. Só precisava de coragem e um pouco de boa vontade.
Depois de terminar, ganhou o suquinho de sempre, pegou um biscoito de sal e colocou o adesivo no peito com a frase “Doei Sangue Hoje”. Ele achava aquilo meio infantil, mas gostava. Saía do Hemocentro caminhando devagar, orgulhoso, quase como quem leva um segredo bonito dentro de si.
No ônibus de volta para casa, encostou a testa na janela e pensou:
“Se cada pessoa doasse duas vezes por ano, nunca mais faltaria. Nunca.”
Mas sabia que muita gente tinha medo da agulha, achava que ia desmaiar, inventava compromisso. Outros se diziam ocupados demais, ansiosos demais, cansados demais. Sebastião entendia as desculpas, mas não aceitava. Vida pedindo ajuda não combina com espera.
Por isso ele doa. Doa sempre. Doa porque um dia, lá em 1992, alguém salvou o colega da serralheria. Doa porque outro dia salvou o filho de uma vizinha. Doa porque, mesmo que nunca conte pra ninguém, gosta de pensar que ajudou a manter um coração batendo.
E, enquanto o corpo permitir, vai continuar.
Antes de descer do ônibus, ajeitou a carteira no bolso outra vez. Olhou pela janela o movimento do bairro, os meninos indo pra escola, uma senhora varrendo a calçada. Cada um vivendo sua vida sem saber que, naquela manhã, um pouco dele estava a caminho de alguém que precisava.
Ele sorriu. Pensou que doar sangue era isso: fazer o bem sem precisar aparecer.
E murmurou, quase em oração:
— Que o povo entenda. Quanto mais gente doa, mais gente vive.
E assim seguiu para casa, com o braço marcado, mas o espírito leve — sabendo que, por mais simples que fosse o gesto, era o tipo de coisa que ajudava a manter o mundo de pé.

Escrito Por Sebastião Silva
Aos 65 anos, Sebastião carrega nas mãos a memória de uma cidade inteira. Chegou em Aparecida no fim dos anos 70, quando tudo ainda era barro e promessa. Foi serralheiro por décadas até se aposentar — cada portão, cada grade, um pedaço da sua história. Entre a missa e o noticiário, não se cala: cobra, opina, representa quem construiu Aparecida com suor.
Vamos falar sobre essa notícia? Mas lembre-se de ser responsável e respeitoso. Sua opinião é importante!
Ninguém comentou ainda. Clique aqui e seja o primeiro!Agenda da Cidade
Mande sua Sugestão!
O Portal Aparecida é de todo Aparecidense. Venha divulgar qualquer novidade da cidade. Mande sua sugestão de matéria, cadastro de evento, vagas de emprego, inauguração de loja ou campanha de caridade pelo nosso WhatsApp:
(62) 93300-1952